Suponho que estejas familiarizado com certas práticas cerimoniais que ocorrem durante os solstícios de verão e de inverno. O mais badalado é Stonehenge, mas em vários países nórdicos os festivais de verão são o principal evento cultural do calendário e entre as nações indígenas do continente americano há celebrações nestes dias que evocam a sua ligação com a natureza. Pois, a noite passada testemunhei algo semelhante que trouxe algum sentido aos eventos das últimas semanas, embora tenha levantado novas questões que dificilmente serão respondidas, pelo menos por agora.
Depois do pequeno-almoço com o capitão Slocum e o DeGarthe no dia da nossa chegada, ficámos a descansar o dia todo e ontem dormirmos até tarde. Precisávamos de recuperar energias depois de uma travessia do Atlântico Norte. Hoje de manhã, visitámos Peggy’s Cove, demorando-nos a admirar a arquitetura local e o efeito da maré na configuração deste pequeno lugarejo de cerca de 30 moradias.
Depois do almoço, tivemos uma visita do Capitão Slocum que pensava ser meramente social. Porém, era o sinal de preparação para algo que não esperava.
«Vamos dar um passeio um pouco diferente do habitual. Prepara uma mochila com um fato de neopreno e equipa-te com fato de banho e roupa para te sujares. Põe também um impermeável leve para te protegeres do frio da noite.»
«Vamos fazer um passeio noturno?», perguntei, intrigada.
«Depois logo vê. Tenho a certeza de que valerá a pena a surpresa.», atalhou o Capitão Slocum, interrompendo o Jackdaw.
Não insisti. Já aprendi que as respostas raramente vêm antes do tempo certo.
Pouco depois, deixámos a estalagem e seguimos os três a pé até ao pontão, onde o Nómada aguardava tranquilo na maré cheia. O céu limpo deixava adivinhar uma noite estrelada. Uma brisa fria, quase outonal, soprava do interior da baía.
Subimos a bordo sem grandes palavras. O Capitão Jackdaw tomou o leme e o Capitão Slocum orientou a vela de estai e indicou o rumo para sul, ao longo da costa recortada da Nova Escócia. Eu instalei-me a bombordo, embrulhada no meu casaco, a observar a paisagem litoral e os movimentos dos dois com um misto de familiaridade e expectativa.
Seguimos ao largo durante algum tempo, afastando-nos pouco a pouco dos sinais de civilização. A linha costeira tornava-se mais irregular, fragmentada em pequenas penínsulas e enseadas escondidas entre as rochas. Fundeámos num ponto aparentemente anónimo, resguardado dos olhares tanto de terra, como do mar, perto de um paredão natural de rocha escura com uma abertura estreita que mais parecia uma sombra entre as rochas.
Vestimos os fatos de neopreno e descemos os três, agora já com as mochilas às costas e os pés protegidos para terreno incerto. O Capitão Jackdaw remou devagar, primeiro ao longo da parede, depois para junto da reentrância. Com a maré ainda em recuo, havia espaço suficiente para o bote passar. A entrada era baixa e irregular e a luz começava a escassear. As paredes da fenda estreitavam-se como um corredor escavado pelo tempo e pela água. Em certos momentos, a corrente da maré empurrou-nos de volta, como se estivesse a testar a nossa firmeza. Até que de repente, após uma curva apertada, a passagem abriu-se numa câmara larga que parecia não ter mais nenhuma saída. Do lado esquerdo, a água do mar parecia deslocar-se, vinda com a maré, de alguma reentrância no fundo, e do lado direito uma nesga de rocha formava uma plataforma natural onde outros botes tinham sido deixados. Ali, à nossa espera, estava um homem alto, de postura direita, com uma capa escura lançada sobre os ombros. Não reconheci o rosto, mas o modo como o Jackdaw e o Capitão Slocum se aproximaram dele indicava que não era um estranho para eles.
Saltámos para terra, um de cada vez. O homem inclinou ligeiramente a cabeça num cumprimento. Depois virou-se, sem dizer palavra, e seguiu até à base da falésia. Fomos atrás dele e entrámos numa gruta semi-submersa, onde as paredes estavam cobertas de inscrições — nomes, datas, símbolos. O caminho era labiríntico e comecei a assustar-me se conseguiríamos regressar mais tarde ao ponto de origem. Num certo ponto, tivemos de atravessar com a água até à cintura e um sentimento de claustrofobia começou a pulsar dentro de mim, a pensar na maré a subir e nós presos naquelas grutas. Finalmente, vimos um brilho a prenunciar a saída e desembocámos inesperadamente no que parecia ser uma baía escondida dentro das rochas. Um anfiteatro natural, com cerca de cem metros de diâmetro, em torno de um lago em meia-lua, rodeado por uma orla de piso rochoso e paredes verticais de rocha negra e lisa, que se erguiam até à altura de um prédio de cinco andares. No topo, a abertura em cúpula deixava ver o céu noturno, estrelado e imóvel. No centro da água, uma pequena ilhota rochosa elevava-se apenas o suficiente para manter os pés secos.
Foi então que reparei nos outros, em semicírculo na margem da enseada, e compreendi que tinha entrado no espaço de um ritual. Sobre uma laje na ilha repousavam três objectos dispostos com precisão ritual: uma roda de leme de madeira esculpida com círculos concêntricos, um cálice metálico de formas irregulares, e uma corda trançada com segmentos de nós distintos.
O Capitão Jackdaw pousou a mão no meu ombro e apontou com o queixo para um afloramento de pedra à nossa esquerda, junto à base da falésia. Um local protegido, mas com vista direta para o centro da enseada. Entendi sem que ele precisasse de falar.
Subi com cuidado, agarrando-me às saliências do caminho estreito. Quando olhei para trás, vi-os todos eles – o Concílio das Marés, assim se chamam os participantes deste ritual –, sete no total, dispostos nas margens virados para o centro. Ergueram os braços e as faces para o céu e depois entraram silenciosamente na água e foram-se deslocando lentamente até à ilhota, até ocuparem o seu lugar num círculo em torno da pedra central.
Do interior dos seus sacos impermeáveis, retiraram algo que incandesceram nas suas mãos, um de cada vez, no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio. Depois, foram à vez ao centro e depositaram parte da chama das suas mãos num recipiente, fundindo-as num fogo que ia mudando de cor a cada nova dádiva, até conter múltiplos reflexos. A Chama do Solstício, explicaram-me mais tarde, que simboliza o contributo universal.
Depois, começou o Cântico das Profundezas. Primeiro, uma voz solitária, num tom grave, quase gutural, depois outra numa nota mais alta. Um tambor juntou-se e depois outro e a seguir um instrumento que parecia o som de areia a chocalhar dentro de canas secas. Não havia propriamente uma melodia, era mais um ritmo evocativo, uma espécie de chamamento.
O silêncio surgiu naturalmente, sem aparente transição, como se estivesse estado sempre lá. Um dos ritualistas debruçou-se sobre o altar improvisado e pegou no Cálice das Marés, uma taça robusta, forjada com o metal de instrumentos náuticos, e verteu no interior uma pequena ampola de água, passando-o ao que estava à esquerda, que verteu também uma ampola, até se completar o círculo com as águas dos sete mares. Uma luminosidade cresceu do interior do cálice, uma espécie de plâncton bioluminescente, e um ténue feixe de luz subiu aos céus, completando a Oferenda a Gaia.
Um a um, os capitães deram um passo em frente, colocando um joelho no chão, com a cabeça pendida para o chão numa espécie de meditação silenciosa que durou quase um minuto. A seguir, retiraram dos seus sacos objetos pequenos, embrulhados em panos de algodão, que desfizeram com cuidado cerimonial. Eram nós. Cada um trazia o seu — distinto na espessura, na cor, na textura. O primeiro, de corda de sisal antiga, conservava ainda vestígios de sal e óleo, arrancado de um cargueiro há muito naufragado. O segundo era feito de cabo náutico moderno, com fibras sintéticas azuis e brancas. O terceiro, de cânhamo grosso e áspero, parecia ter pertencido a um veleiro fluvial. Todos eles tinham formas e materiais diversos e foram acrescentados à Corda Eterna, disposta no altar, até o derradeiro a fechar num círculo com um nó direito fraternal. São os Nós dos Tempos e refletem a interligação entre os destinos de todas as criaturas do nosso planeta.
Por fim, ergueram o Leme Universal, um mecanismo de origem desconhecida em forma de roda de leme que está em permanente transmutação vibrante, ora feito de madeira, ora de outra substância qualquer. Seguraram-no na horizontal, dispostos em semicírculo, cada um com uma mão num dos punhos da coroa da roda do leme, deixando a parte de cima do aro apontada para a parede leste da enseada. E depois, como se de um código secreto se tratasse, todos repetiram em uníssono:
«Por este leme que traça o virar do tempo, guiamos o mundo rumo ao alvorecer. A fragilidade da Terra é a nossa bússola; consagramos-lhe as nossas rotas.»
Mantiveram-se assim por alguns minutos, assim me pareceu, mas pode ter sido horas porque a certa altura a luz do nascer do sol rompeu no interior, alinhada com uma fenda da gigantesca caverna, e atingiu a roda do leme com precisão no cubo central. Um feixe solitário subiu brilhante para a aurora rósea, ao mesmo tempo que o mecanismo ganhava luminescência, realizando a Convergência Solar. A dado momento, houve uma suave explosão de luz refratada em mil cores, dançando sobre as paredes da enseada, as águas e nós próprios. E tão subitamente como chegou, a luz desapareceu.
Os capitães recolheram os objetos cerimoniais, guardaram-nos numa mochila que parecia ter sido costurada especialmente para os acolher, pegaram nos seus sacos impermeáveis e nadaram para a margem da enseada. Refizemos o caminho de saída, desta vez com a maré a empurrar-nos para fora do recinto, e o grupo começou a dispersar. Cada um seguiria o seu rumo — mas não sem antes lançarem ao oceano pequenas boias codificadas, reluzentes, que, soube mais tarde, recolheriam dados, transmitiriam sinais, fariam vigília em nome da Terra. Despediram-se com uma saudação críptica: «Que as nossas elípticas atinjam as máximas distâncias angulares em relação aos nossos objetivos e que as suas declinações se mantenham máximas por muito tempo».
Regressámos ao Nómada já com o sol alto e sem palavras. Recolhemos o ferro, içámos a vela e rumámos a Peggy’s Cove. Assim que o rota se fixou, quando o Capitão Slocum já descansava no interior, o Capitão Jackdaw meteu o piloto-automático e fez-me sinal para nos juntarmos na popa. Ofereceu-me um embrulho pequeno, envolto num pedaço do tecido cerimonial. Era um dos Nós dos Tempos — um fragmento da Corda Eterna, ainda húmido da cerimónia.
«Para que te lembres que estiveste lá.», disse ele. «E agora sabes demais para fingires que não sabes.»
«Isto é uma espécie de símbolo?», perguntei, hesitante.
«Não. É uma responsabilidade.»
Depois, virou costas e foi para o leme, onde ficou a olhar o mar como quem vigia algo que ainda não chegou.
Fiquei sentada junto à popa, com o nó entre as mãos, a ouvir o barulho do mar e o assobio distante das gaivotas. Pensei no planeta, nesta Terra a quem pedimos tanto e damos tão pouco. Na violência miúda que infligimos à natureza: cada floresta rasgada, cada espécie esquecida, cada oceano sujo de pressa e ganância. Talvez não consiga mudar o rumo de nada, mas sei agora que há quem tente. Em silêncio, em segredo, debaixo da linha visível do mundo. Capitães de todas as eras e ficções, alinhados numa única jura: preservar o que ainda não perdemos.

Título vai aqui
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
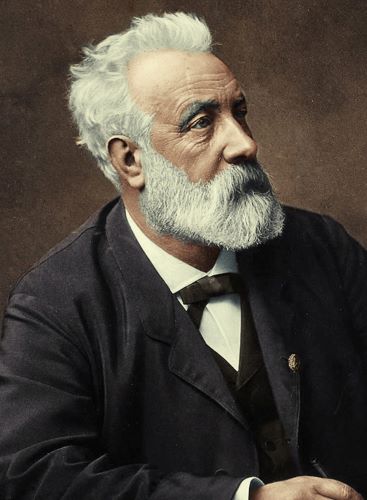
Título vai aqui
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Título vai aqui
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.